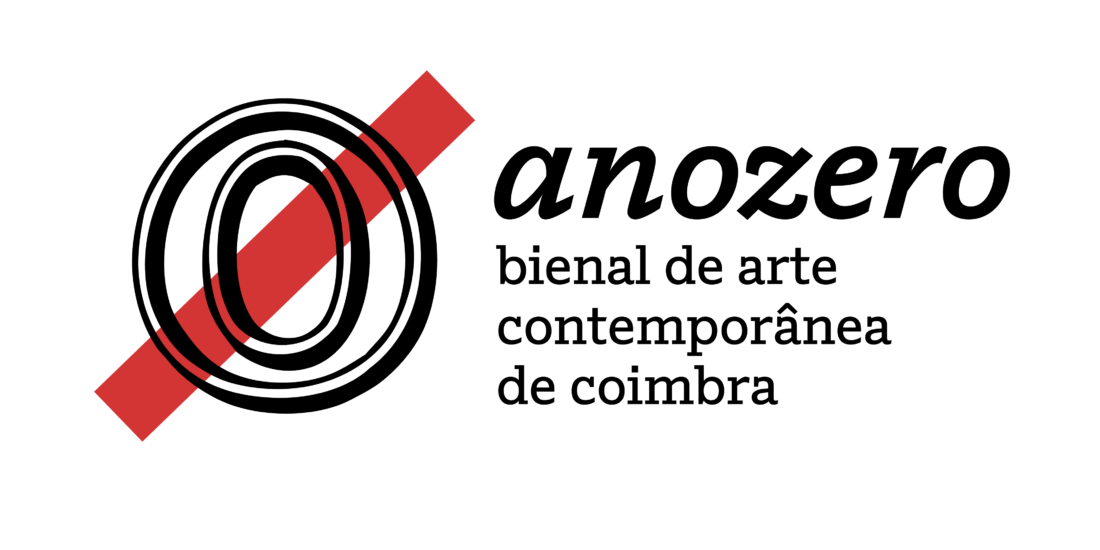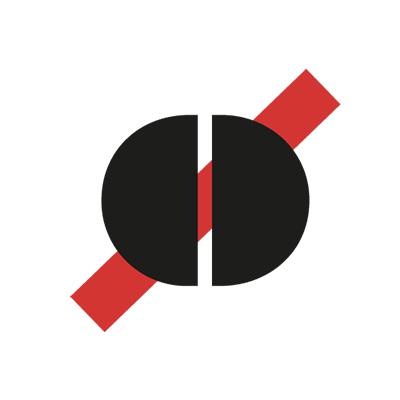Ninguém poderá dizer essa dor
Sobre Ragnar Kjartansson
Coisas acontecem e coisas movem-se. Coisas transformam-se. Coisas repetem-se. Assumem a metamorfose. O tempo é metamorfose. O tempo é uma mudança interna e invisível. O tempo é capturado, e depois negado, obliterado. Coisas movem-se e repartem-se de acordo com regularidades imprevistas. Tudo é repetição e tudo é diferença. Duração. Atmosfera.
A arte é uma analítica do tempo, mesmo quando só temos o espaço para a fazer proliferar e crescer entre os objetos deste mundo. Essa analítica presume um recuo, uma distância, uma reflexividade. Essa analítica é uma imagem do que há de construído, programado. Mas talvez ela seja dispensável. Talvez só a reverberação de uma experiência importe. Algo reverbera, algo que se afigura ser uma representação integralmente partilhada, ou que, pelo menos, pede essa expectativa, essa crença. Ragnar Kjartansson pede-nos que tomemos o simulacro pelo real. Tantas vezes representou o papel de um ator que se fez um ator. Tantas vezes regressou a esse enigma de assumir uma identidade que lhe parecia extrínseca, que se deixou contaminar com essa possibilidade. Tantas vezes correu os riscos da despersonalização que algo terá acontecido em nome de uma essência. Esse acontecer é o evento transfigurador que a sua arte celebra. Recuamos, mas temos dificuldade de o pensar. Mergulhamos nele e somos contaminados pela sua perfeição. A perfeição que só a experiência — e a vertigem que ela convoca — poderá ainda reter.
Distância e proximidade. Ou melhor, o espaço íntimo que só a música poderá convocar. Falou-se de uma vontade de articular as artes performativas e o teatro — algo que se afigurara anátema —, mas esta síntese só é válida se assumirmos que, em Kjartansson, todas as sínteses são uma reivindicação da instabilidade dos momentos de revelação e reencontro, de imersividade plena, se quisermos.
Afinal, sorrow will conquer happiness, isto é, a clareira aberta no centro da floresta está prestes a fechar-se. O reconhecimento da sua beleza — palavra tão gasta que aqui regressa para nos mobilizar e, quem sabe, iluminar — é mercurial. Depressa a floresta se fechará sobre esse território onde a cena primitiva tem lugar. A esperança colapsará, não sem antes nos deixar o testemunho da sua presença.
Nenhum artista nos fala já desse tempo sem tempo em que reconhecemos o poder das reverberações. Nenhum artista parece preocupar-se com os modos de fazer dobrar o tempo como se ele fosse uma folha de papel. Dobrar o tempo para melhor o suspender, para melhor o reificar, como se se tratasse de uma peça escultórica. Esculpir o tempo e mostrar-nos como ele é matéria e sombra dessa eternidade. Suspensão. O teatro e a música são os instrumentos de sombra e melancolia a partir dos quais essa hipótese é traçada.
Nenhum artista, dizemos. Um artista agora, só, operando essa sombra e essa melancolia, só na paisagem enquanto a floresta se fecha à sua volta, e nós, por momentos, sujeitos aos sortilégios da clareira. Reclamar o mirífico. Devolver a intimidade dessa experiência fundamental a um circunstante, quanto mais desprevenido melhor. Uma não explorada resolução de uma necessidade extrema que nos dilacera desde o início. Ragnar Kjartansson regista esse desejo, esse dilaceramento. Talvez a arte, aquela que nos interessa, que nos pode interessar ainda, seja apenas o registo ou a materialização, o signo, ou tão-só o seu vestígio, de um desejo excruciante que não se esgota. Talvez esse registo, mesmo na sua perfeição técnica, seja afinal o índice, glorioso é certo, de uma impossibilidade, de uma frustração, de uma falha que fende o nosso rosto.
Talvez essa dor assim tornada manifesta seja o que de melhor há em nós, um sofrimento iniludível que, soberanamente, se presta ao jogo e à ironia de quem por acidente tropeça numa frase batida, torcendo-a, fazendo-a sangrar. Não sofra mais. Não sofra por não sofrer, dir-se-ia. Ninguém poderá dizer essa dor. Ninguém a poderá representar. O artista acerca-se dela com o prejuízo e o limite assegurados. Esplêndido falhanço.
Ragnar Kjartansson ergue-se em escombros, e à sua volta dois ou três parecem fitá-lo, reconhecemo-los: Halldór Laxness, Samuel Beckett, Bas Jan Ader. Uma parte disso é uma montanha de objetos heteróclitos que o artista poderá ter abandonado no seu exercício de procura e risco. Que poderá ter abandonado ou tão-só destruído. Sem o ato de destruição primeva — com contornos sacrificiais —, nada será real, nem sequer a hipótese de um tempo sem tempo que nos moveu, move. Regozijemo-nos, pois, com o gesto de destruição de John Baldessari. Com a sinuosa falha que, na nossa memória, quebra o Grand Verre, continua a quebrá-lo.
Toda a representação se desmaterializa em tonalidades de quartzo — as mesmas que semeiam o espanto num ecrã de vídeo — ou em manchas de grafite sobre papel — nessa ecologia profunda e pobre dos nossos sonhos. Toda a representação convoca já um colapso da representação, como se nada fosse possível senão o acentuar do precipício entre a consagração das imagens e a sua morte.
A iconoclastia torna mais espesso o avesso da luz, a sombra que se abate sobre o mundo e que se espalha sobre o nosso rosto, como uma doença. Essa doença somos nós, como Nietzsche nos disse. Tomámos consciência da impossibilidade de nos libertarmos das imagens, e por isso oscilamos entre a sua construção e a sua destruição.
Foi Hans Belting que nos ensinou a compreender o escopo de tal jogo e ironia. Ragnar Kjartansson é um artista onde o agon entre a construção e a destruição, a consagração das imagens e o gesto iconoclasta, regressa numa reivindicação permanente de verdade que a ironia pontua e desequilibra. Reivindicação de verdade que é celebração do desequilíbrio.
Experimentar é desequilibrar. E toda a verdade é o palco onde o repetido drama do desequilíbro acontece. Como na vertigem de A Lot of Sorrow, com os The National, onde o som se faz presença incorporada, escultórica, e a leveza de uma canção se torna num exercício que tem por referente último o peso, a exaustão e o colapso. E lembramo-nos das epidemias de dança, em que se dançava até à morte, como aquela que terá ocorrido entre julho e setembro de 1518 em Estrasburgo. E lembramo-nos de They Shoot Horses, Don’t They?, de Sydney Pollack.
Ragnar Kjartansson, cuja impiedade parece dissipar quaisquer pretensões, lança-nos, em permanência, para momentos onde a iluminação poderá corresponder a uma quase morte, ou onde a arte é a expressão de uma vontade de perigo e salvação que os românticos — que ele parece convocar desde as primícias —, em particular Friedrich e Hölderlin, incensaram. Uma performance (que é uma escultura), uma instalação de vídeo (que é uma pintura) vêm animar, em sentido profundo, as representações.
Perante as derivas da representação — o seu lado escorregadio, convencional e mundano — do nosso presente, Kjartansson faz opor uma espécie de contradiscurso. A aproximação à poesia e, em particular, ao espaço que a poesia foi construindo na nossa modernidade é um dos traços distintivos do percurso do artista. A repetição como um modo de quebrar a narrativa e de criar uma experiência ou uma tonalidade, a preferência pela atmosfera, o sublinhar de uma Stimmung, em suma, o regresso de um mundo onde as imagens poderão de novo fazer reverberar os seus sortilégios vividos e sujeitar-nos aos paroxismos e imersividades que só a música, ultima ratio, realiza como paixão e virtude, são alguns dos elementos recorrentes do trabalho do artista islandês.
Como Kjartansson nos diz, a sua arte antecipa-se em permanência à sua vaidade, ela ultrapassa a sua circunstância e os limites da sua circunstância. Somos atirados para a fragilidade potencialmente revelatória da nossa situação.
Razão e emoção, equilíbrio e desequilíbrio, construção e destruição aliam-se numa encenação (verdadeira porque encenada, encenada porque verdadeira) da nossa incorrigível e luminosa fragilidade.
Luís Quintais
março de 2023
[1] Hans Belting, An anthropology of images: picture, medium, body, Nova Jérsia, Princeton UP, 2011.
[2] Calvin Tomkins, «Play it again. How Ragnar Kjartansson turns repetition into art», The New Yorker, abril, 11, 2016.